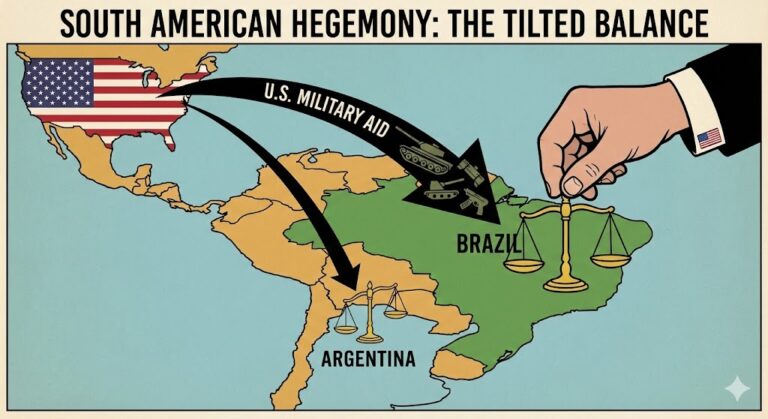Meus amigos, a história que trago hoje é um soco no estômago da nossa “civilizada” sociedade moderna. É um relato que vem lá de Bótrágy, um vilarejo que já foi tcheco, húngaro e hoje é ucraniano. Mas a geografia importa menos do que a tragédia humana que se desenrolou ali. Falo de Irene Fogel Weiss.
Imaginem uma vida simples. Camponeses, vizinhos que se conheciam pelo nome, uma rotina pacata. Irene tinha apenas oito anos quando o mundo virou de cabeça para baixo. A Tchecoslováquia se desfez, a Hungria assumiu o controle e, vejam só, alinhou-se aos nazistas. Foi o fim da lei. Do dia para a noite, cidadãos perderam seus direitos civis. O negócio do pai confiscado, as crianças expulsas da escola, a estrela amarela costurada no peito. A barbárie institucionalizada.
E notem a perversidade do sistema: a ilusão. Irene conta que não tinham rádio, não tinham jornais. Viviam de boatos. Quando a ordem de deportação chegou, na primavera de 1944, meio milhão de judeus húngaros foram empurrados para vagões de gado em direção à Polônia. E o que eles pensavam? Que estavam indo para um campo de trabalho. A mente humana, meus amigos, busca a esperança até no inferno. Ao olharem pelas frestas do trem e verem uniformes e barracões em Auschwitz, sentiram alívio. “Se vamos trabalhar, vamos viver”, pensaram.
Não sabiam que aquilo era uma fábrica de morte.

A chegada à plataforma de Auschwitz é o momento que define o resto da existência de Irene. A separação. O pai e o irmão para um lado; a mãe e os pequenos para outro. Irene, segurando a mão da irmã, foi jogada para a fila de trabalho. E aqui entra um detalhe arrepiante, que a história tratou de preservar: existem fotos. Soldados nazistas documentaram a chegada. Décadas depois, Irene se reconheceu numa dessas imagens. Uma menina, sozinha no meio do caos, inclinando o corpo para tentar ver para onde levaram sua irmãzinha. Em outra foto, sua família na fila, sem saber que aguardavam a câmara de gás.
Irene sobreviveu. Ela e a irmã Serena. Passaram pelo inimaginável, marcharam na neve até a Alemanha, viram a morte de perto, viram a crueldade humana em seu estado bruto. De mil habitantes de seu vilarejo, apenas dez sobraram. Nenhuma família completa restou.
Hoje, vivendo na Virgínia, nos Estados Unidos, Irene nos dá uma lição dura sobre a sobrevivência. Perguntam a ela como suportou. Ela não fala em terapia. Ela fala em “distância emocional”. Para não enlouquecer, ela convenceu a si mesma de que aquilo não era a Terra, que aquilo não era real. Era a única forma de ver colunas de crianças marchando para a morte e não desmoronar.
Irene reconstruiu a vida, tornou-se professora, formou família. Mas ela carrega uma sabedoria amarga que nós, no conforto de nossos lares, deveríamos ouvir com atenção. Ela diz que a civilização é uma camada muito fina, superficial. E deixa uma frase que ecoa mais forte que qualquer grito: “Perder a fé nas pessoas é mais devastador do que perder a fé em Deus”.
É para se pensar.